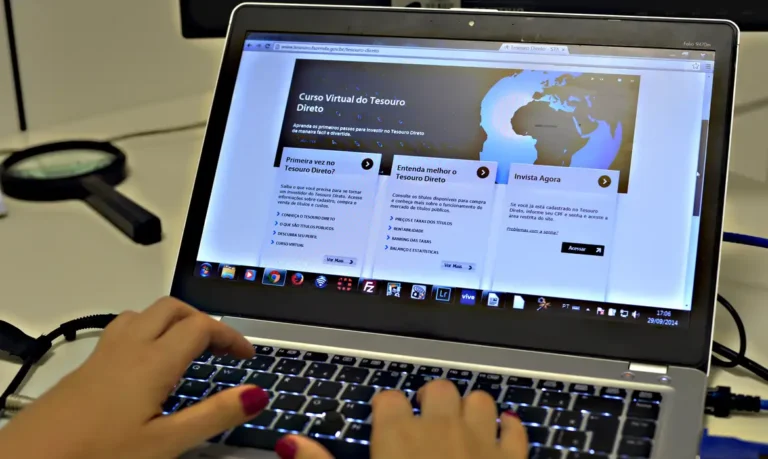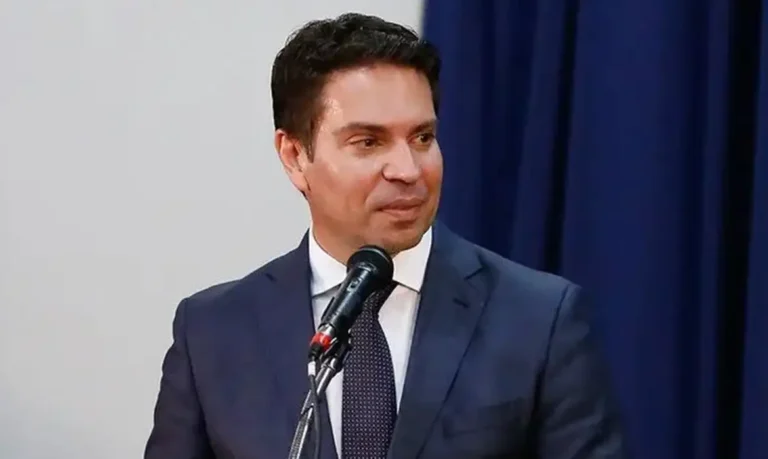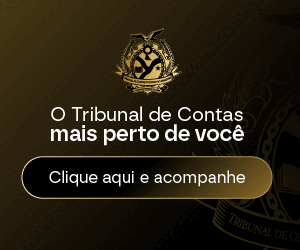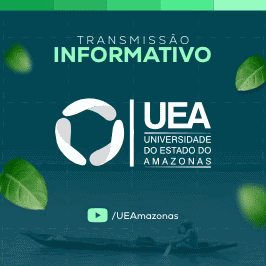Com 25 anos de aplicação, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terá provas nos dias 5 e 12 de novembro, tem transformado o acesso às instituições de ensino superior e também os cursinhos preparatórios do país.. Alguns desses cursinhos passaram a se preocupar com a adaptação para receber alunos indígenas e quilombolas. .
Um desses cursinhos é o Colmeia, concebido na Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em Limeira, interior de São Paulo, em 2010. No final do ano passado, a iniciativa, idealizada pela professora Josely Rimoli, conseguiu ser elevada de patamar e se tornou um programa da universidade, o que pressupõe maior apoio institucional.
O Colmeia tem aulas à noite e incorporou a modalidade online em 2019. São 17 professores, entre graduandos e pós-graduandos da Unicamp, que dão aulas de linguagem, exatas, biologia e ciências humanas.
Em entrevista concedida à Agência Brasil, a Josely Rimoli destacou que a atuação da equipe do cursinho pré-vestibular não deve parar no ensino, e sim se estender ao acompanhamento do aluno aprovado quando ingressa no ensino superior. O objetivo do Colmeia, portanto, é oferecer o suporte necessário e garantir que o estudante está se integrando bem na comunidade acadêmica e, mais, que tem condições de se manter até o final do curso, inclusive financeiramente. Assim, pode-se dizer que pensa na efetividade de ações de permanência estudantil.
Além disso, para falar de igual para igual, respeitando o chamado “lugar de fala”, reivindicado por pessoas que fazem parte de grupos minorizados, como os indígenas e quilombolas, o Colmeia permite que os alunos conversem com alguém de perfil parecido, na hora de receber orientações e acolhimento, algo a que dedicam um dia da semana. Um estudante indígena dialoga com um instrutor também indígena, mesmo cuidado com que se trata a parcela quilombola das turmas, formadas, ainda, por adolescentes da Fundação Casa, mulheres e ribeirinhos.
Ensino básico e acesso à internet
Josely pontua que as falhas deixadas pelas escolas em que os alunos do cursinho estudaram vêm, com frequência, à tona, como ocorreria com qualquer estudante, independentemente de se pertencem ou não a grupos minorizados. Por isso, a equipe de professores entendeu que era preciso ajudá-los a fixar os conteúdos em vésperas de provas.
“A gente compreende que é importante dar acesso, contribuir para que acessem o ensino superior. É um direito à educação. E, uma vez que entraram [na instituição de ensino], precisam ter apoio à permanência”, declara a coordenadora do Colmeia, que também é responsável pela acolhida de candidatos indígenas que passam no vestibular da Unicamp.
Josely conta que um levantamento organizado pelo programa recentemente revelou que 83% dos alunos inscritos estudam pelo celular, o que faz com que a atenção se volte para o acesso à internet, geralmente obtida por meio de pacotes de dados e que se esgota rapidamente, à medida que vão assistindo às aulas. “Um quilombola do Vale do Ribeira atravessava o rio, à noite, em uma canoa, sozinho, para pegar sinal. É uma batalha por vez ou várias ao mesmo tempo”, diz a professora universitária.
Pertencimento
No caso do curso Jenipapo Urucum, da Associação Nacional de Ação Indigenista (Anaí), as estudantes que assistem às aulas e são mulheres e meninas indígenas, muitas vezes, até mesmo o aparelho celular é compartilhado com outros membros de suas famílias, não sendo de uso exclusivo delas, o que marca mais um grau de dificuldade de acesso. Como as alunas não podem prescindir dos aparelhos eletrônicos, as organizadoras do cursinho se mantêm constantemente mobilizadas para conseguir doações de tablets, computadores e celulares.
Conforme verificou o Instituto Semesp, o contingente de estudantes indígenas, no ano de 2021, era de pouco mais de 46 mil pessoas, o equivalente a 0,5% do total de alunos do ensino superior, proporção que ainda pode melhorar. A entidade também descobriu que o gênero feminino predomina entre os alunos indígenas, correspondendo a 55,6%.
Aluna do Jenipapo Urucum, a jovem Suziany Kanindé, de 18 anos, vive na zona rural de Aratuba (CE) e estuda em uma escola indígena. Ela descobriu o cursinho através de seu pai, que viu um post de divulgação no Instagram.
Suziany planeja estudar psicologia em Fortaleza, tanto por se identificar com a área como por ver que há uma lacuna de profissionais desse campo no atendimento ao seu povo, conciliando, assim, os estudos com a vontade de manter intacto ao máximo o convívio com os familiares. Como vantagem do caráter singular do cursinho indígena, ela cita a oportunidade de conhecer o modo de viver de outros povos originários.
“São diferentes povos, de todo o Brasil. Então, é uma chance de conhecer outras pessoas, cultura, tradições”, observa ela, que utiliza um tablet para ver as aulas, ministradas à noite, no contraturno da escola, e já reconhece avanços no desempenho em língua portuguesa e ciências da natureza, com o auxílio dos professores do cursinho, que são indígenas e não indígenas.
Perguntada sobre como espera que seja sua adaptação na universidade, Suziany exterioriza certa apreensão. “A gente conversa, dentro do cursinho, sobre a realidade dentro da universidade. No cursinho, a gente está entre a gente. Já na universidade, é outra realidade. A gente encontra uma série de dificuldades, quando vai para fora, sai da zona de conforto”, afirma ela, que também atua no Museu Indígena Kanindé.
Política de cotas
A jovem pataxó hã-hã-hãe Narrary Lucília, de 18 anos, também foi aluna do Jenipapo Urucum e chegou até ele pela sua mãe, que é monitora do cursinho, além de ter sido aluna, em outro momento. Para Narrary, que agora reduziu a frequência às aulas, depois de começar a cursar nutrição em uma faculdade particular, com bolsa integral, também é fundamental a sensação de pertencimento que a turma gera. “A maioria das pessoas que está nas universidades não é indígena. Acho esse projeto muito bonito. Algum professor, às vezes, inicia a aula colocando um vídeo de algum ritual, as alunas se juntam e, quando há duas de um mesmo povo, cantavam juntas. E conhecer também as culturas das meninas”, afirma.
Para Narrary, um dos fatores em que o governo acertaria, em termos de ampliação da presença de indígenas no ensino superior, seria a aposta no ensino básico, junto com políticas afirmativas, ou seja, cotas que permitam um maior acesso a eles. “As escolas indígenas são muito precárias. Às vezes, há poucos indígenas fazendo a prova do Enem porque não se sentem capazes. O ensino na aldeia não é tão bom assim e acaba que muitas pessoas achavam que os indígenas eram atrasados. Por causa disso, acabam sem querer estudar, por não se sentirem capazes. É por isso que não têm tanta representatividade [nas instituições de ensino superior]”, resume ela.
Por Agencia Brasil